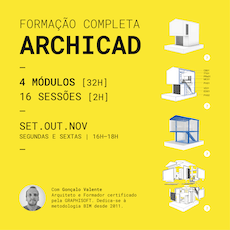Na sociedade da informação e do conhecimento os territórios digitais são uma espécie de novo emblema das políticas do território. A gestão das interfaces territoriais, entre comunidades online e offline e a cooperação territorial descentralizada, dependem, doravante, diretamente do modo como abordamos o problema. Assim, digitalizar o território é uma perspetiva, territorializar o digital é outra perspetiva. A digitalização da realidade e a sua visualização virtual permitem-nos preparar a sua territorialização ulterior de uma forma muito mais criativa. Vale a pena, por isso, fazer um esforço analítico no sentido de perceber melhor em que consiste e o que está em jogo quando se fala de territórios digitais e digitalização territorial. E é assim porque, em referência ao negócio digital que irá inundar todas as áreas de atividade, a digitalização de um território precisa de um contraponto, de um centro dotado de racionalidade territorial que evite o ruído de fundo e seja capaz de estabelecer o ponto de equilíbrio entre uma perspetiva estritamente empresarial do negócio digital e a perspetiva da inteligência institucional e coletiva das comunidades territoriais.
A pandemia da covid 19, ao acelerar a transição digital, mostrou-nos bem como se altera a posição relativa dos atores em presença. A migração para o universo virtual revela-nos como a computação em nuvem facilitou a oferta de tele serviços, as videochamadas, as reuniões de trabalho à distância, as lojas online, as plataformas de entregas ao domicílio, os transportes uberizados, os serviços de streaming, etc. É certo, há ainda muitos fatores críticos da transição digital que importa acautelar, por exemplo:
– O grau de cobertura da infraestrutura digital,
– O grau de literacia digital da população,
– O acesso, a regulamentação, a regulação e a segurança dos dados,
– Os novos modelos de negócio digital e os novos formatos de empreendedorismo,
– As novas modalidades de serviços em coprodução e cogestão,
– Os novos instrumentos de smartificação do território como as cidades inteligentes,
– As novas relações laborais e socioprofissionais,
– Os modos de prevenir e lidar com os excessos de digitalismo e adição digital.
Sabemos, também, que os modelos de negócio digital não estão ainda bem ajustados, a cobertura digital do território não é satisfatória, as dificuldades de acesso e a iliteracia são evidentes, a regulação da atividade digital está em aberto, as questões de privacidade e segurança não estão resolvidas, as cadeias de valor e os assuntos fiscais suscitam muitas dúvidas, a pirataria informática e a guerra cibernética vieram para ficar, ao mesmo tempo que, na transição digital, prevalecem a hipervelocidade e o risco sistémico e alguns efeitos externos negativos como é o caso do risco moral e o passageiro clandestino.
Entretanto, em matéria de interfaces territoriais, os territórios digitais abrem o caminho para uma outra perspetiva de olhar para os problemas do desenvolvimento. O modo convencional, presencial ou in situ, tem uma determinada georreferenciação, se quisermos, um padrão de mobilidade mais fixo, mas, também, um modo de sociabilidade e comunicação mais direto, se quisermos, mais emocional. O modo digital tem uma georreferenciação diferente, um padrão-fluxo e uma cartografia mais móvel, bem como uma sociabilidade e comunicação mais intangíveis e virtuais. Se observarmos os dois modos de ocupação pelo prisma das três inteligências (racional, emocional e artificial) verificaremos que a inteligência emocional sai claramente perdedora quando passamos do modo convencional para o digital. Ora, é a inteligência emocional que melhor consubstancia quer a ocupação do território e a nossa relação com a natureza, quer a provisão sentimental para a comunicação e a sociabilidade humanas.
Esta constatação é plena de consequências quando olhamos, por exemplo, a política de ordenamento e o planeamento urbanístico das grandes cidades, pois na mesma cidade temos dois universos em profunda interação como se fossem duas cidades na mesma cidade: o universo dos problemas tangíveis que precisam de ser digitalizados e virtualizados (a virtualização da realidade) e o universo dos imaginários virtuais (o realismo virtual) que aguarda para ser convertido em realidade tangível e material. Nesta cidade a duas velocidades fica por saber como evoluem as respetivas cartografias territoriais e as representações do espaço público, como se acomodam os espaços ditos verdes, qual é a adequação da arquitetura urbana a esta dupla velocidade e como se distribui o nosso padrão de mobilidade nesse contexto.
Ora, nesta cidade a duas velocidades, as interfaces alteram radicalmente os nossos percursos e rotinas. No modo convencional os cidadãos vão ter com os serviços que estão fisicamente estabelecidos nos locais de residência de acordo com uma certa geografia urbana. Os percursos são familiares: o quiosque, a casa das apostas, o café, a loja, o minimercado, o serviço público, a agência bancária, o posto dos CTT, a farmácia, a livraria, a biblioteca, o consultório, o restaurante, entre muitos outros. No modo digital, e em muitos casos, são os serviços que vêm ter connosco, em linha e no terminal do nosso smartphone: o jornal online, o jogo online, as compras online, as encomendas online, o e-government e e-banking, a refeição takeaway, o teletrabalho e a telemedicina, as visitas digitais aos museus, o e-book, os eventos nas redes sociais, os webinares, entre outros. Além disso, a covid 19 obrigou a reconsiderar as deslocações, concentrações, serviços, espaços de lazer e recreio, o universo desportivo, a arquitetura urbana do espaço público, ou seja, tudo o que diz respeito à ocupação e distribuição do espaço pelo território. E, assim, a nossa vida quotidiana passou a oscilar entre o fixo e o fluxo.
Ainda é cedo para perceber o impacto geral nos modos de organizar a cidade, mas nada ficará como dantes. No modo convencional a cidade está verticalizada, o poder está centralizado e domina a cidade. O universo que prevalece é o dos equipamentos, infraestruturas e serviços públicos, ou seja, o universo das autoridades públicas. No modo digital o código domina a cidade, a cidade está mais horizontalizada e distribuída, as plataformas colaborativas partilham o poder, emerge um poder mais lateral que dispensa, em certas condições, a intermediação das autoridades públicas. Não falamos de cidade vertical, mas de plataformas públicas, privadas e cooperativas que procuram ainda uma base comum de entendimento. Quando alcançarem esse objetivo teremos uma outra cartografia, um outro padrão de mobilidade, um outro território espaço-público.
Aqui chegados, as plataformas, os algoritmos e seus aplicativos criarão duas realidades distintas, mas complementares: as atividades in situ de presença física direta e as atividades ex situ de controlo e monitorização à distância. Como é obvio, os planos de ação compreenderão sempre as duas atividades em dosagem variada de acordo com o respetivo planeamento. No plano da mobilidade e ordenamento do território é obvio que tudo depende de uma complementaridade saudável entre as duas perspetivas in situ e ex situ. A lógica das plataformas e dos algoritmos é uma lógica georreferenciada e com um front office de intermediação mais reduzido, enquanto a lógica in situ é uma lógica mais administrativa e com um front office presencial mais pesado. Por exemplo, a loja do cidadão já mudou a cartografia do espaço público que estava, antes, mais disperso, e a extensão dos serviços online irá modificar ainda mais essa cartografia territorial. Está em causa o conceito de administração pública do território tal como o conhecemos até aqui, assim como o design criativo da sua implementação.
Artigo de António Covas . Professor Catedrático da Universidade do Algarve